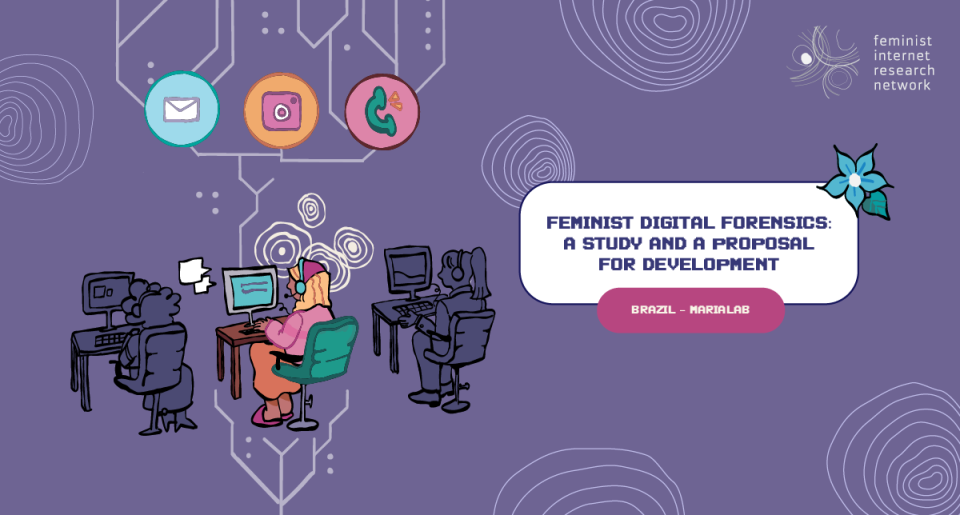
Em um ensaio escrito em 1986,[1] a reconhecida autora de ficção científica Ursula Le Guin apresenta uma crítica a literatura de ficção que coloca demasiada ênfase na figura do herói, em seus atos de bravura e violência e suas armas de dominação.
Para elaborar sua crítica, Ursula resgata o conceito de “Teoria da Sacola” proposto por Elizabeth Fisher em Women’s Creation.[2] Esta tese sugere que a história tradicional da evolução humana é incompleta quando se concentra na atividade de caça e na invenção de ferramentas como lanças, machados e flechas. De acordo com essa teoria, as atividades de coleta e armazenamento de alimentos, as quais acredita-se serem tradicionalmente realizadas somente por mulheres, foram igualmente importantes para a sobrevivência e o desenvolvimento da humanidade, sendo um passo fundamental para que os humanos se tornassem nômades e explorassem novos territórios. Le Guin, baseada nas ideias de Fisher, sugere que antes de “porretes e as lanças e as espadas, as coisas usadas para espancar e perfurar e bater, as coisas longas e duras […] o primeiro dispositivo cultural foi provavelmente um recipiente.”[3] Daí vem a metáfora da sacola, usada para demonstrar que “juntamente ou antes da ferramenta que força a energia para fora, criamos a ferramenta que traz a energia para casa.”[4]
A lenda do herói, ainda que incompleta, é repleta de ação e poder, e exalta a narrativa da vitória e da conquista. Por serem vistas como mais ‘empolgantes’ ou 'atrativas’, são estas as histórias que permeiam grande parte das obras de ficção científica até hoje, seja na literatura ou no audiovisual.
O argumento de Ursula adverte que, ao concentrar-se apenas sobre o herói, inúmeras outras histórias deixam de ser contadas.
juntamente ou antes da ferramenta que força a energia para fora, criamos a ferramenta que traz a energia para casa.
Talvez o leitor que chegou até aqui esteja se perguntando por que os primeiros parágrafos de um artigo que explora questões éticas da pesquisa feminista está se estendendo sobre uma teoria da literatura de ficção. Bom, primeiro é preciso dizer que as autoras deste artigo são grandes fãs de Ursula Le Guin e toda a obra produzida por ela. Mas não é (só) por isso que a autora ocupa um espaço considerável neste texto. A Teoria da Sacola, seja aplicada à evolução humana ou à ficção científica, ou mesmo expandida para a Ciência e Tecnologia Feminista, propõe um novo tipo de contação de histórias, um que desafia a lógica da invisibilidade e do silenciamento. Mais do que isso, desafia o nosso imaginário sociotécnico sobre a Ciência e a Tecnologia, ou a dita ‘ciência comum’[5]:
Se a ficção científica é a mitologia da tecnologia moderna, então seu mito é trágico. A “tecnologia” ou “ciência moderna” [...] é uma tarefa heroica, Hercúlea, Prometeusiana, concebida como um triunfo e, como tal, fundamentalmente como tragédia. [...]
Se, no entanto, for possível evitar o modo linear, progressivo, Flecha-(assassina)-do-tempo do Tecno-Heroico e redefinir tecnologia e ciência primordialmente como uma sacola cultural, e não como arma de dominação, um efeito colateral benéfico é o de que a ficção científica pode então ser vista como um campo muito menos rígido e limitado, não necessariamente Prometeusiano ou apocalíptico em absoluto e, na verdade, um gênero muito menos mitológico do que realista.[6]
Aqui chegamos no aspecto central de nossa reflexão: “redefinir tecnologia e ciência primordialmente como uma sacola cultural, e não como arma de dominação”.
Ao longo do desenvolvimento de nossa pesquisa[7] nos deparamos com os desafios de romper com as dicotomias tradicionais, como a entre sujeito e objeto, e as noções de rigor científico, buscando relações de pesquisa mais horizontais e colaborativas.
Em nossa investigação nos propomos a responder a pergunta: a perícia forense digital pode apoiar em casos de violência de gênero? Para o desenvolvimento do estudo, nos juntamos a outros grupos da América latina que compartilham nosso desejo de explorar o potencial da forense digital no contexto de defesa de direitos humanos. Dialogamos com organizações internacionais de direitos humanos e tecnologia que respondem a ameaças digitais direcionadas à sociedade civil e que são reconhecidas como referências no campo da perícia e da análise avançada de ameaças digitais; e com Linhas de Atenção Feminista da América Latina, com as quais já atuamos em projetos conjuntos e criamos uma relação anterior de confiança.[8].
Cabe destacar que nesta pesquisa ocupamos um duplo papel como pesquisadoras e participantes diretamente interessadas na temática investigada. Essa dualidade entre ‘investigar’ e ‘participar’ é algo natural de nossa prática como organização hacker feminista. Quando aplicada em um contexto de pesquisa científica demanda cuidados e reflexões adicionais. Compreendemos que nossa experiência pessoal e nosso engajamento político com o tema pesquisado são parte integrante do processo de investigação, e que a reflexão crítica sobre nossos próprios posicionamentos é fundamental para a produção de conhecimento. Isso também inclui reconhecer a posição de “poder e privilégio que vêm com a ‘confiança da comunidade’ devido a identidades em comum.”[9]
A Teoria da Sacola, seja aplicada à evolução humana ou à ficção científica, ou mesmo expandida para a Ciência e Tecnologia Feminista, propõe um novo tipo de contação de histórias, um que desafia a lógica da invisibilidade e do silenciamento.
A crítica feminista à ciência moderna é um dos campos mais férteis onde se desenvolveu uma ética de pesquisa que problematiza e refuta as noções de objetividade científica, argumentando que toda a ciência é construída social e historicamente. Autoras dos estudos feministas de ciência e tecnologia, como Evelyn Fox Keller,[10] Sandra Harding[11] e Donna Haraway,[12] argumentam que todo conhecimento é situado, ou seja, parte de contextos e pressupostos que devem explicitamente integrar a própria análise. Conhecimento situado, conhecimento localizado ou perspectiva parcial compõem a proposta epistemológica da localização e da parcialidade do conhecimento. De acordo com esta abordagem, toda teoria começa a partir de uma motivação, de experiências particulares, conexões e reflexões.
A partir do reconhecimento dessa não-objetividade, buscamos métodos para que as ideias, dados e experiências reunidas em nossa pesquisa não fossem o reflexo apenas de quem as escreve. A pesquisa-ação – processo de investigação que busca intencionalmente criar efeitos práticos na realidade estudada – foi o caminho que elegemos trabalhar.[13] Esse método dialoga com a nossa interpretação de tecnologia como um conhecimento organizado em torno de um fazer.[14].
Como parte de nossa metodologia de pesquisa, organizamos um encontro presencial com ao menos uma representante de cada linha de ajuda feminista participante deste projeto.[15] Nós, literalmente, levamos uma sacola e pedimos que cada participante depositasse dentro dela algo que considerasse importante entregar ou levar desse processo de investigação. Esse exercício de ‘quebra-gelo’ foi uma proposta lúdica para dar início às apresentações, mas também foi um ponto de partida para criarmos as bases de um processo de construção de conhecimento aberto e colaborativo. Deste diálogo, sintetizamos as ideias em 3 pontos principais que serão pilares de nosso processo de investigação:
Comunidad. Fortaleza. Crianza mutua.

Comunidad
O senso de comunidade que tecemos com as pessoas e grupos participantes da pesquisa precede o período desta investigação e prosseguirá para além dela. Entre as ideias colocadas nesta sacola, vemos palavras como desejo, sonho, ternura e amizade, ao lado de pedidos para compartilhamentos de palavras em ’portuñol’ (mistura de português e espanhol) e playlists de músicas latinas – elementos que dificilmente habitariam as histórias dos heróis e certamente não estariam entre os tratados teóricos de grandes paradigmas da ciência.
Compreendemos que nossa experiência pessoal e nosso engajamento político com o tema pesquisado são parte integrante do processo de investigação, e que a reflexão crítica sobre nossos próprios posicionamentos é fundamental para a produção de conhecimento.
Desde as nossas práticas como integrantes da comunidade de segurança digital, e diante da perspectiva feminista que adotamos, sempre trabalhamos sob as bases de um ’espaço seguro’, entendido como um ambiente propício ao desenvolvimento de ideias e à troca de experiências em que o bem-estar de todos os participantes é uma prioridade. Por isso, a criação de laços de amizade, o compartilhamento de refeições nutritivas e o respeito aos momentos de descanso são elementos fundamentais da nossa abordagem.
Fortaleza
Reconhecer os saberes produzidos desde as ações práticas e o trabalho cotidiano é um princípio que reafirmamos frequentemente. Entender e afirmar que o campo da pesquisa não é o único meio de construção de conhecimento é uma maneira de nos mantermos sempre atentas às hierarquias de poder que podem habitar a pesquisa e nossos próprios ‘espaços seguros’. Agregar distintos aprendizados e modos de fazer, abre as possibilidades de análises empíricas e ao mesmo tempo fortalece o desenvolvimento do trabalho conjunto.
Uma característica comum às pessoas participantes desse encontro é pautar o cuidado digital como parte de um processo de fortalecimento e desenvolvimento de capacidades. Isso contrasta com a lógica militarizada do campo de segurança da informação, que destaca ‘atacantes’ e ‘explorações’, relegando o tema da proteção a mera prática de segurança preventiva. Para o grupo presente, proteção e fortalecimento são partes de um processo de aprimoramento e transformação de compreensões, centralizado nas pessoas e no princípio de ‘não fazer dano’.
O próprio grupo é formado por uma intersecção de pessoas diversas que traz consigo sua própria vivência, ativismos, culturas e paixões. Uma vez enredadas, esta trama de saberes assume que tecnologias e ações de transformação são mais fortes em sua amplitude do que em sua ultraespecialização.
Trazer essas reflexões no início e ao final de um encontro que propõe compartilhar práticas ultraespecializadas é intencional e simbólico. Assim, quando encerramos nosso encontro com uma oficina de forró, além de ser uma atividade divertida, que movimenta e nos conecta aos nossos corpos, também é uma forma de apresentar e experimentar um ritmo reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Brasil.[16]
Entender e afirmar que o campo da pesquisa não é o único meio de construção de conhecimento é uma maneira de nos mantermos sempre atentas às hierarquias de poder que podem habitar a pesquisa e nossos próprios ‘espaços seguros’.
Crianza mutua
Esta expressão significa mais que o processo de criar em conjunto, mas ressalta a importância de seguir cultivando e alimentando esta criação coletiva.
Estamos implicadas no desenvolvimento de vocabulários alternativos que reflitam a especificidade das experiências narradas, desafiando as categorias e os conceitos hegemônicos.[17] Ao invés de simplesmente reproduzir as linguagens dominantes, buscamos construir formas de expressão que possibilitem a emergência de novas narrativas.
A criação dessa comunidade é coletiva, não apenas em seu princípio, mas construída em muitos ‘espaços seguros’ e por muitas mãos. Sob a ótica de um processo de produção livre e aberto, as ideias circulam, inspiram, são repensadas e remixadas e seguem retroalimentando esse ciclo de criação.
Isso também nos fez refletir a respeito da autoria. Quem são as autoras deste texto e dos textos futuros? Como podemos creditar a originalidade das ideias que reunimos na produção de artigos para além da forma clássica de citação de autores e entrevistados? As referências são um recurso suficiente ou seguem perpetuando uma separação entre pesquisador e participante?
E ainda, como lidar com a linha tênue entre anonimato-segurança e reconhecimento-visibilidade, quando lidamos com pautas complexas como o enfrentamento às violências e às múltiplas desigualdades de gênero, raça, classe e sexualidade? O quanto nomear as pessoas que colaboraram nessa pesquisa as coloca em risco?
Os conceitos de risco e segurança são profundamente familiares para nós por meio de nosso trabalho. Como linhas de apoio feministas, nos envolvemos diariamente em atos de resistência e resposta a incidentes; o anonimato e a análise de risco são ferramentas centrais em nossa prática.
Ainda assim, apesar de nossa própria experiência, essas são perguntas que ainda ressoam entre nós e que todavia não temos as respostas.
Por ora, escolhemos nomear a todas. De um ponto de vista tradicional de segurança digital pode não fazer sentido. Pode ser até visto como incoerente, arriscado ou egoísta.
A nossa sacola é compartilhada e carregada pelas mãos de Mariel de Luchadoras; Daniela de Técnicas Rudas; Nara e Nina do Centro S.O.S. Digital; Su e Pris de Navegando Libres por la Red; Sophie da Universidade de Montreal; Lino da Rede Transfeminista de Cuidados Digitais; Tes, Ashi, Chan, Paty, Dany e Carl de MariaLab.
O ato de nomear a todas não vêm atrelado a uma atividade heróica de defesa ou de ataque, mas a um esforço de ‘trazer a energia para a casa’. Reafirmar e preservar o como, o quem e o porque junto com o quê. Motivar, sonhar, compartir. Construir algo é importante. Mas entender quem constrói, como constrói, por que e para quem constrói é o que nos move.
Footnotes
[1] Le Guin, U. K. (1986). The Carrier Bag Theory of Fiction. https://theanarchistlibrary.org/mirror/u/uk/ursula-k-le-guin-the-carrie…
[2] Fisher, H. E. (1980). Woman's Creation: Sexual Evolution and the Struggle for Female Power. McGraw-Hill Book Co.
[3] Le Guin, U. K. (1986). Op. cit. 2.
[4] Ibid.
[5] Chibeni, S. S. (2004). O que é ciência? Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, 1-17. https://unicamp.br/~chibeni/textosdidaticos/ciencia.pdf
[6] Le Guin, U. K. (1986). Op. cit. 4.
[7] The research project "Feminist digital forensics: A study and a proposal for development" is being developed by MariaLab, a Brazilian feminist non-profit organisation working at the intersection of gender, technology and politics. The project is part of the Feminist Internet Research Network, a collaborative and multidisciplinary research project led by the Association for Progressive Communications and funded by the International Development Research Centre.
[9] Hussen, T. S. (2019, 29 August). "All that you walk on to get there": How to centre feminist ways of knowing. Feminist Internet Research Network. https://firn.genderit.org/blog/all-you-walk-get-there-how-centre-feminist-ways-knowing
[10] Keller, E. F.. (2006). Qual foi o impacto do feminismo na ciência?. Cadernos Pagu, (27), 13–34. https://doi.org/10.1590/S0104-83332006000200003
[11] Harding, S. (1987). Introduction: Is there a Feminist Method? In Feminism and Methodology: Social Science Issues. Indiana University Press
[12] Haraway, D. (2009). Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, (5), 7–41. Recuperado de https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/17…
[13] Tripp, D.. (2005). Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação E Pesquisa, 31(3), 443–466. https://doi.org/10.1590/S1517-97022005000300009
[15] The feminist digital security helplines participating in this project are Maria D’ajuda, Navegando Libres, Tecnicas Rudas, Luchadoras and Centro S.O.S. Digital.
[16] Tolentino, I. (2019, 24 October). Forró and the relationship between music, dance and identity. Corpuslab. https://corpuslab.info/forro-e-as-relacoes-entre-musica-danca-e-identidade/?lang=en
[17] Oliveira, D. P. de ., Araújo, D. C. de ., & Kanashiro, M. M.. (2020). Tecnologias, infraestruturas e redes feministas: potências no processo de ruptura com o legado colonial e androcêntrico*. Cadernos Pagu, (59), e205903. https://doi.org/10.1590/18094449202000590003
- 22 views





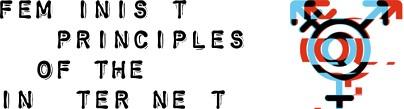

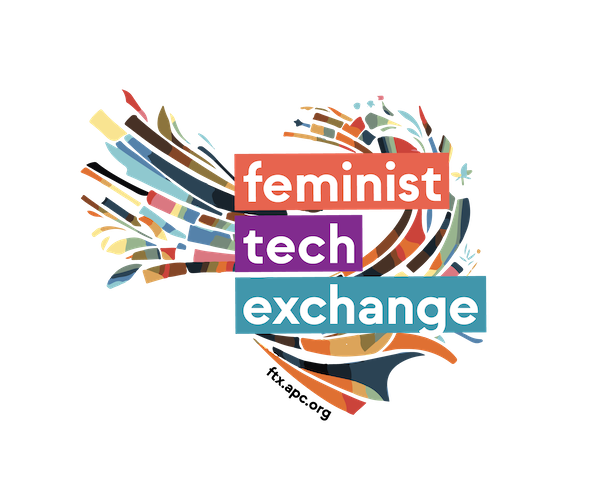
Add new comment